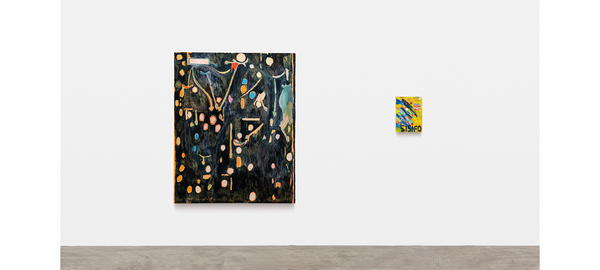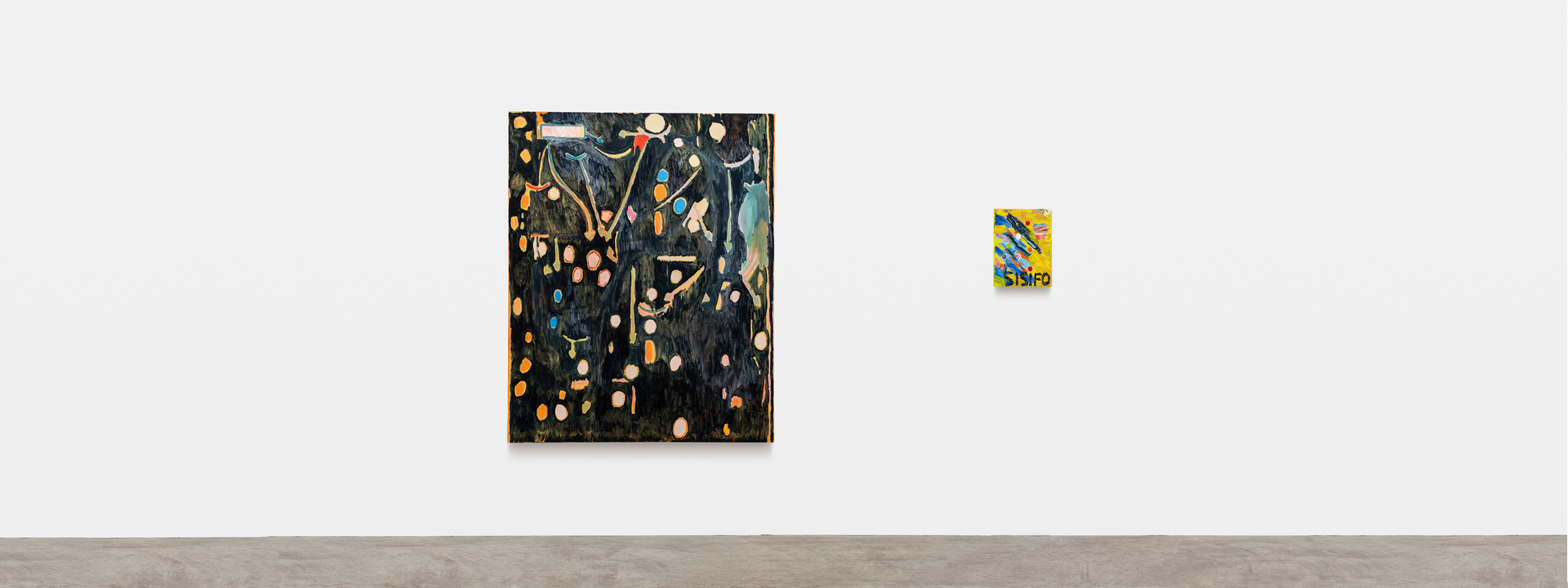Por mais estranhos que fossem os enquadramentos, uma figura ou um elemento
costumava centralizar a cena, a superfície do quadro. As cores eram, em
geral, esmaecidas, e a atenção se voltava para as condições de uma imagem
hiperprocessada se apresentar. Surgiram nesse momento também as perguntas
sobre as propriedades materiais daquilo que era visto e sobre os limites da
visão, da observação, porque a imagem se dispunha fugidia, embaçada, em tons
rebaixados. O que parece ter mudado de lá para cá é que o foco – desde a
realização da obra até a experiência do observador com ela – teria se
deslocado do resultado para o processo de produção da pintura. De 2014 ou
2015 para cá, a feitura do trabalho salta à vista, ou melhor, o que se dá a
ver é o curso da pintura, a pintura em processo. Mas também não é só isso. O
trabalho, agora, já não parece visar à construção de uma imagem
predeterminada, integral, de limites claros, ou mesmo reconhecível, como
antes. Pelo contrário, o processo passou a compreender graus variados de
indeterminação. E, além disso, a constituição da pintura começou a envolver
operações diversas e por vezes conflitantes, com figuras e ações em
superposição.
BRUNO DUNLEY
Eu vejo isso também. A produção de 2015 em diante foi nessa direção de
liberação, fluxo, alguma coisa nesse sentido que o Alexandre apontou como um
ponto de inflexão. E acho que essa produção anterior, de 2009 a 2013, tinha
algo desse procedimento de colocar uma camada espessa de tinta, raspá-la e
interferir sobre ela.
AW
Tinha uns três procedimentos…
BD
… que vira e mexe aparecem nas pinturas. Mas acho que o ponto central é que
no decorrer da feitura das pinturas existe uma espécie de separação entre o
meu impulso de fazer, do meu desejo ou pensamento sobre o trabalho, e o
resultado da pintura. Nos trabalhos realizados entre 2012 e 2013, para mim é
evidente que existia uma falta, uma desconexão muito grande entre o que eu
gostaria que fosse e o resultado dos trabalhos. Havia uma relação entre a
cor esmaecida e essa materialidade mais espessa que poderia silenciar as
imagens reconhecíveis que nomeiam o mundo, mas o que percebi naquele momento
foi que, em vez de gerar um silêncio que pudesse dilatar a nossa percepção
do tempo, aquelas pinturas produziam uma coisa muda e estéril. Perceber essa
esterilidade no trabalho me trouxe uma vontade de movimentação e
deslocamento. Refletia sobre a possibilidade de obter alguma potência
cromática mais ampla que não carregasse uma narrativa tão codificada da cor.
Queria experimentar a cor para inventar uma narrativa. Comecei a pesquisar
uma série de experiências cromáticas ao longo da Idade Média, iluminuras
etc., e passei a me dedicar à pintura e ao desenho sobre papel. Essa
prática, iniciada em 2015, gerou uma liberação pela facilidade do suporte,
da escala, de você poder rasgar e jogar fora. Acho que ainda carrego algumas
coisas desse processo anterior. Mas, ao eliminar parcialmente um modelo
figurativo que estruturava a composição e que sugeria um caminho de
interpretação, o risco do trabalho era cair em um lamaçal e ficar sem lugar.
Você passa a lidar com uma ideia de pintura abstrata muito complexa, muito
gasta. Como é possível construir imagens sem referências de imagens? Com a
pintura vindo para a frente, as operações, os processos, passam a ganhar
mais relevância, mas uma imagem ainda é formada.
AW
Mas vejo que você ainda mantém por um tempo essas duas formas de começar as
pinturas: às vezes partindo de uma figura mais reconhecível, outras deixando
a pintura mais apoiada no processo.
JAR
Sim, falei da ocorrência de uma mudança, mas não quis dizer que houve
rompimento. Porque certas características permanecem, surgem aqui e ali. Por
exemplo, esse esforço de preenchimento completo da superfície, a
estruturação da pintura com um motivo forte no centro... Fora isso, acho que
agora a pintura está muito mais desembaraçada, o que fica evidente, para
mim, com a série
Bestiário, da qual fazem parte aquelas pinturas intituladas
Dilúvio.
BD
O
Bestiário
veio também desse imaginário da Idade Média do qual me aproximei a partir de
2014, através das iluminuras. Acho que nessa série a liberação se amplia de
tal modo que me trouxe outros problemas, porque até aquele momento eu sempre
tentava buscar um equilíbrio para não transbordar. Acho que se passar do
ponto, se esticar demais a corda, alguma coisa meio indefinida descamba.
Então, é um conflito que permanece vivo – encontrar alguma medida entre
liberação e contenção, principalmente no gesto pictórico. A ideia do gesto
ainda é uma questão em aberto.
O gesto na trajetória da pintura abstrata, moderna e contemporânea é
protagonista de um conflito narrativo entre a expressão e a negação de um
sujeito lírico. Não acredito que a arte seja feita para expressar um
absoluto da liberação da vontade, mas ao mesmo tempo ela passa pelo desejo
do artista e por sua tentativa de capitalizar um pensamento, uma coisa,
uma expressão. As pinturas intituladas
Dilúvio
são desdobramentos desses conflitos que permanecem desde o início do
trabalho, em 2006. Então, o que venho buscando compreender é uma
possibilidade de expansão da experiência pictórica que não seja
protagonizada apenas pela gestualidade expressiva, mas também por outros
modos de fazer igualmente gastos.
Essa ideia de expansão é importante para mim. Ainda é algo vago, em
construção, mas que caminha na direção de trazer uma experiência de
deslocamento, de transformação, de expansão no sentido da percepção. Criar
um movimento de reflexão sobre a relação do nosso corpo com a pintura e o
mundo em que vivemos.
O
Bestiário
foi o momento mais ilustrativo da minha trajetória e não tive receio de
pegar uma iconografia de mundos imaginários, de terrores psicológicos e
movimentar meu trabalho nesse território. As preocupações que eu tinha
antes sobre o gesto, sobre o que é a pintura, o que ela pode ser e como ela
se localizava no nosso tempo, geravam uma tensão entre a experiência do meu
corpo e uma herança cultural da minha formação. Essa relação conflituosa com
a cultura construída, aprovada e chancelada por uma parcela da sociedade se
diluiu e introjetou dentro do trabalho. Quando comecei essa série, em 2016,
o Brasil passava por um momento complicado, que produziu mudanças de
paradigmas na estrutura social do país. Tivemos um pacto social rompido por
conta de um golpe de estado articulado pelo Congresso Nacional, pelo
Judiciário, por uma parcela significativa da imprensa e por setores da
sociedade empresarial e civil, que derrubou ilegitimamente a presidenta da
república Dilma Roussef. Aquilo ainda não foi resolvido; não é um ponto
pacífico na nossa sociabilidade. O que submergiu disso foi um estado de
fragilidade, um espírito antidemocrático e uma asquerosidade social que,
através de um grande acordo nacional e brechas da própria constituição,
jogaram o pacto social na lata do lixo. Comecei a olhar para dentro das
questões sobre pintura, sobre ser artista e pensei “cara, que preocupações
são essas?”. A sociedade estava e está em um movimento tão brusco e tosco
que essas questões ganharam outro lugar em mim. O golpe de 2016 foi tão
absurdo que esse sentido de liberação se acelerou e se instalou fortemente
no meu trabalho. De alguma maneira, tentei lidar com essa coisa turva da
capacidade humana de produzir algo aterrorizante e asqueroso, mas, apesar de
ter produzido trabalhos de que gosto muito, acredito que falhei. Não dá para
nomear e disputar isso no plano da minha linguagem.
AW
O
Bestiário
também cumpre um papel interessante no que estamos falando. Além de tudo
isso que você acabou de dizer, também vejo essas pinturas como uma
formulação de algo que te acompanha desde sempre: uma espécie de presença do
desconforto, do desagradável no seu trabalho. Numa conversa com o Cadu no
livro você fala de “uma sensação meio enjoada”, já em relação àquele
monocromo
amarelo
(feito em 2010), que acredito ser uma manifestação parecida da mesma idéia
apresentada no
Bestiário
e nas pinturas desta exposição (Virá, 2020). É como se essa vontade
que se mostra sob diferentes aspectos ao longo do tempo estivesse sempre por
perto. É claro que existem todos esses disparadores que você acabou de
eleger – e o fato de que nem sempre um disparador encerra todos os lugares
que o trabalho depois de pronto pode alcançar, não é mesmo? Se o golpe foi o
que disparou esses trabalhos, eles podem chegar também em lugares muito
diversos, diferentes do que os originou. Acho que, de certa forma, essa
série te manteve próximo do que estou falando sobre essa ideia de
desagradável. Dito isso, o que você entende por desconforto olhando para sua
produção?
BD
A palavra desconforto é boa, porque já surgiram para mim termos como
“estranho”, “desagradável” ou “violento”. Quando comecei a pintar, eu queria
ser um artista da metafísica, da cor íntima, da dilatação do tempo, de uma
espécie de desaceleramento da experiência urbana e midiática. Admirava
artistas com essas características, mas fui descobrindo que eu não era esse
tipo de artista. Então, o primeiro desconforto foi perceber que eu não era
um artista da metafísica, da repetição visual, mas sim um artista da
variação, e isso, no contexto da minha formação e idealização, foi
desconfortável. Desde a minha primeira exposição individual, em 2010, os
nomes, isso já estava posto, mas o entendimento dessa variação como
construção de uma poética, de um lugar que passou por uma metapintura e que
falava da condição de pintar era o que estava em jogo.
Enxergo esse desconforto de algumas maneiras. Uma é por essa variação que se
repete nas exposições. Prezo muito pela autonomia de cada pintura, o fato de
que cada uma delas tem um corpo, uma fisicalidade, essa autonomia da
linguagem. Mas, ao colocá-la dentro de um espaço expositivo com outra
pintura, que também tem a sua autonomia e sua diferença, isso causava ruído,
um desconforto. A variação na aparência das pinturas causa um conflito que
me interessa. Entendo o conflito como um campo de duas possibilidades: do
diálogo ou da guerra. Ambos possuem uma dimensão política. Acho que
transitei por esse rumo dentro do trabalho, nas relações entre as pinturas,
entre as exposições e isso foi estimulante e ao mesmo tempo desconfortável.
Hoje não é mais. Está começando a se assentar e se afirmar.
JAR
Falamos até aqui de mudanças pelas quais o trabalho atravessou em dez anos
de trajetória, e me lembrei de alguns adjetivos que são atribuídos com
frequência à produção do Bruno, que, segundo essas qualificações, seria
heterogênea, diversa, plural. Há razão nisso, sem dúvida. Mas também
considero que essa variedade de imagens, soluções, gestos, feituras não
significa ecletismo. Tem muito de exercício, de algo tentativo, nessa
multiplicidade, um ânimo de testar possibilidades variadas.
Junto com isso, a ideia de uma coleção de imagens acompanha o andamento da
produção do Bruno, desde o começo – a ideia de que o trabalho descende de
coleções de imagens, ao mesmo tempo em que constitui, por suas decisões, uma
coleção de imagens. Essa coleção, de algum modo, antecipa não só figuras,
mas também os raciocínios, os modos de pensar. Dá pistas sobre o fato de o
trabalho resultar, em parte, de estudos de imagens diversas e que extrapolam
o campo da arte.
Então, de fato, sempre houve diferenças grandes entre uma pintura e outra, a
cada vez que o trabalho era mostrado em conjunto. Atualmente essas
diferenças, ou aquilo de que você falava como “conflito”, aparecem em uma
mesma obra. Cada pintura é, hoje, mais composta que antes – às vezes, como
eu disse, motivos e procedimentos que são aparentemente contraditórios
surgem lado a lado, em uma mesma tela.
Outro aspecto dessa variedade informa, ainda, a erudição do trabalho –
culto, estudado, ilustrado. Mas não porque faz referências diretas a outros
artistas, e sim porque ele internaliza um interesse pela história da arte e
parece mesmo revigorar-se no estudo dessa disciplina. O quero dizer é que
são evidentes aqui embates com certas obras, com certos artistas, mas também
com a história da arte.
Mas, retomando uma questão, é interessante pensar esse caráter plural do
trabalho considerando, também, que o processo de produção do Bruno já não é
mais tão planejado quanto antes. O fato de agora o trabalho partir para o
ataque sem nenhum, ou com vários materiais prévios ao mesmo tempo amplia sua
margem para o imprevisto. Se o trabalho antes parecia, reiteradamente, zerar
os passos anteriores de sua marcha, para lidar com um repertório
aparentemente sempre mais amplo de escolhas, agora ele parece estar à
procura de instituir, a cada vez, as condições para a realização de uma
pintura que seja sobretudo desenvolta e desembaraçada, do começo ao fim de
seu processo de produção; uma pintura que lide, ainda, com materiais
preexistentes, emprestados, mas por meio de uma ação em aberto, sem amarras
nem compromisso com este ou aquele autor, com esta ou aquela vertente, com
esta ou aquela tradição de pintura.
Numa tela como
Cabeça de ferro
(2019), por exemplo, há o elemento central que lembra os rios da Leda
Catunda, esse campo inferior que traz reminiscências de pinturas do Jorge
Guinle, essa borda com estampas que talvez reportem à obra do José
Leonilson… São materiais diversos que concorrem para a construção da
pintura, que, repito, parece mais desenvolta na lida com o vocabulário
desses artistas, sem reverenciá-los – ao contrário, de maneira solta, e sem
programa prévio, sem a tarefa de adaptar imagens, sem compromisso com
determinada linguagem ou gênero.
AW
Você também se coloca numa enrascada, no bom sentido, que tem muito a ver
com essa mudança de procedimentos. Você tenta se livrar de muita coisa para
pintar – tanto ao fazer o exercício de pensar o trabalho com certo
distanciamento quanto no momento do ateliê, mesmo. E o lugar em que você se
põe, acredito, tem muito a ver com uma espécie de ansiedade. Você
tenta tirar os seus pontos de apoio o tempo todo, sendo que você, mais que
em diversos outros casos, começa com a pintura apoiada em
muitos
pontos, como o Zé acabou de dizer. Uma vasta coleção de procedimentos, uma
vasta coleção de referências, uma vasta coleção de imagens do mundo. Então
vem um esforço de tirar aos poucos as coisas do caminho, e sabemos o quanto
isso é complicado. Porque sei que você chega num momento – que pode ser
falso ou verdadeiro – em que você fica meio sem nada e pensa “putz, e agora,
o que eu faço com isso que acabei de fazer?”. Você poderia fazer isso de
maneira anedótica, poderia ser um comentário irônico, jocoso, mas não acho
que você use desse jeito. Quando você usa o
dripping, por exemplo, não acho que você esteja acessando uma
maneira de pintar como alguém que busca na prateleira do supermercado um
procedimento disponível. Vejo mesmo como o possível reflexo de um embate que
nasce da tentativa de esvaziar o campo de atuação.
JAR
Vai levando um campo inteiro para uma sinuca de bico.
AW
É sempre uma sinuca de bico. É uma raiz muito importante e acho que essa
ansiedade
está nas pinturas, se relacionando diretamente com o desconforto de
que falamos, essa coisa incômoda que não sabemos dizer exatamente o que é ou
onde está.
BD
Acho que tudo isso que vocês colocaram está presente nos trabalhos: uma
ideia de coleção de imagens, de coleção de possibilidades de pintar e nesse
sentido, desde o início, me interessei sobre o que a pintura pode ser. Mas
vale ressaltar que existe uma redução aí, porque não lido com a pintura em
um campo mais expandido. É o que a pintura pode ser dentro desse meio
tradicional, tinta sobre pano, o que a pintura pode ser hoje depois de toda
a suas histórias, de um questionamento sobre a sua potência de responder a
um mundo pós-industrial, mediado por imagens fotográficas, de TV e de
internet. O que me veio com mais força de pensamento foram questões de uma
certa
história da arte e o desenvolvimento da pintura como manifestação humana em
outros períodos e contextos. Citei aqui as iluminuras, mas me interesso
muito por pintura rupestre, por pintura egípcia, enfim, o interesse é muito
variado, mas dentro desse campo. É um interesse passional. Não transito nele
de maneira estudiosa e também não escrevo sobre ele. A minha vida acadêmica
é curta. Não tenho pesquisas sistemáticas, mas gosto de ver e ler sobre
essas coisas.
JAR
Certo. Mas você também sistematiza o pensamento para, por exemplo, dar
aulas...
BD
Meu interesse em dar aula vem da possibilidade de criar espaços para exercer
esses estudos e me propiciar um outro ofício, um estímulo a organizar as
ideias e verificar essa organização com outras pessoas. Eu me alimento
desses encontros e tento realizar abordagens abertas, em que todos tenham
voz e compartilhem seus conhecimentos e investigações. Apesar de as
experiências serem muito diversas, existe um ponto onde todos possuem um
imaginário em construção sobre o mundo e sobre as histórias da arte.
Acredito no conhecimento como um direito de todos, mas, para que haja
acessos e construções, é necessário haver oportunidades e interesses.
Existe todo esse campo de validação e difusão do conhecimento que passa por
uma estruturação social para formar e circular as ideias. Você precisa
conquistar ou criar esses espaços físicos – escritas, publicações,
universidades, museus, centros culturais – para conquistar o imaginário das
pessoas. Eu acho essa construção mais potente quando o jogo é aberto, quando
as possibilidades materiais dessa construção são mais abrangentes e os
espaços de acesso e poder são compartilhados.
Gostaria que a minha pintura alcançasse algo dessa dimensão pública de uma
forma desenvolta, como o Zé colocou. Que ela fosse pra rua, sabe? Que fosse
uma coisa pedestre e pública, não apenas no sentido do acesso a sua presença
física, mas na circulação das ideias, de uma sensibilidade, de uma pulsão.
Acho que tento fazer isso em uma dimensão íntima dentro do ateliê, e me
interesso cada vez mais por participar dessa construção no espaço público,
pela possibilidade de contribuir para a existência desses espaços de
expansão.
JAR
Bruno, voltando ao impacto do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em
sua produção, em primeiro lugar, considero admirável o fato de não haver uma
reação discursiva do trabalho ao episódio que o mobilizou – o fato de a
produção não confundir inconformismo com uma expressão panfletária, de lemas
ou emblemas. Pelo contrário, parece que a obra internalizou esse
inconformismo nas formas da pintura. Mas o que chamou mesmo minha atenção no
que você disse foi a associação entre o rompimento de um pacto político e
social e a liberação que você diz levá-lo para longe de “questões da
pintura” com as quais antes você costumava se debater. A minha pergunta é:
que pensamentos, que partes, que princípios do seu trabalho estavam atados à
ordem social e política brasileira antes? E como você enxerga o campo e as
possibilidades de inscrição social da arte hoje no Brasil? Como você vê o
lugar social do trabalho de arte nesses tempos? Você diria que há
especificidade para a linguagem da pintura nesse contexto?
BD
Concordo com o que você disse sobre o trabalho não ter ganhado uma dimensão
discursiva por conta de um episódio político que afetou a vida da sociedade
brasileira inteira. Mas, para mim, foi perturbador perceber que o rompimento
do pacto social tensionava também estruturas de legitimação sobre visões da
arte, de sua sociabilidade, circulação, e politização do gosto dentro do
campo das artes visuais. Isso se intensifica de 2016 até aqui, e acho que
foi um caminho de uma tomada de consciência mais profunda sobre o que é ser
um cidadão, que me levou a ter outra consciência sobre o que é ser artista.
Não dissocio essas duas instâncias e passei por um entendimento que não
exclui as autonomias de cada uma delas. As questões próprias da linguagem da
pintura, da imagem e suas histórias permanecem fundamentais no trabalho,
mas hoje elas convivem com questionamentos sobre estruturas sociais e
culturais, que sempre foram precárias, insuficientes e excludentes. Parece
contraditório, porque é como se a partir de uma experiência social
traumática, a minha experiência de sujeito artista se acelerasse e alguma
coisa daquela reflexão sobre questionamentos específicos da linguagem
pictórica perdesse a importância, ao mesmo tempo em que passou a agir com
mais potência dentro dos trabalhos. Isso, que já estava em conflito, se
dissipa e o que fica é essa camada de pensamento sobre como a arte ou a
pintura é trabalhada dentro da sociedade, como ela se estratifica nessa
mecânica de um aparato cultural limitado que envolve produção, circulação e
atitudes de admiração.
JAR
Uma das motivações, então, foi extrapolar – ou romper – os limites dessa
estratificação?
BD
Eu não sei se é extrapolar esses limites, porque isso vai além da minha
experiência individual e precisa ser uma atitude coletiva e pública. O que
quero dizer é que me localizo como um artista que teve a oportunidade de
passar por uma formação em faculdades de artes, instituições, ateliês de
artistas, que convive com outros artistas de diversas idades, que vê muita
exposição, que teve o privilégio de viajar para ver arte... A minha
formação, além de muito centrada em uma parcela da arte moderna e
contemporânea brasileira, tem um viés europeu e estadunidense. Parte da arte
brasileira tem isso e se debate com isso há pelo menos um século. Precisei
olhar para o lugar que ocupo dentro da sociedade, para a estrutura cultural
que formou meu pensamento visual e entender que faço parte de um processo
histórico coletivo. Como as artes visuais se organizam materialmente dentro
da nossa sociedade? Como é que se organiza a difusão desse imaginário? Eu
diria que o lugar social da arte é o lugar de construir, de colaborar na
construção do imaginário de um indivíduo, de um grupo, de um país ou de um
mundo. O campo das artes visuais ainda é muito apartado da sociedade
brasileira. Temos um mercado com uma estrutura forte, mas com pouca
representatividade numérica em relação à quantidade de artistas existentes e
com pouco espelhamento da diversidade cultural brasileira. As instituições
estão muito dependentes de parcerias público-privadas para se manterem e
isso é um reflexo da ausência de políticas públicas para o setor. O saldo
disso é uma espécie de sequestro da possibilidade de construção ampla e
democrática desse imaginário através das artes visuais. Já tivemos momentos
em que isso foi pensado com intenções mais públicas, porém não menos
classista nas estruturas. Todo o modernismo brasileiro da década de 1920 a
1950, o neoconcretismo, o tropicalismo, as revistas
Malasartes, A parte do fogo, a participação de Paulo
Sérgio Duarte, Ferreira Gullar e Iole de Freitas na FUNARTE, no INAP
(Instituto Nacional de Artes Plásticas) no final do anos 1970 e início dos
1980 foram iniciativas que abriram espaços para a arte moderna e a
contemporânea circularem e serem debatidas.
Não acho que seja tão relevante para a pintura hoje ter algum compromisso
com uma especificidade da sua linguagem. Isso já é uma conquista da
modernidade. Já podemos entender a pintura não só como uma representação,
mas também como uma manifestação de modos de fazer, de temperamentos que
surgem através do modo como você manipula os materiais, as ferramentas, a
matéria... Para mim, o compromisso com essas especificidades deveria ser
mais trabalhado na área da educação, nos meios de difusão do conhecimento e
cultura. A autonomia da arte foi uma conquista importante, mas precisa ser
difundida sem que pareça alienada dos processos de cidadania, separada das
realidades sociais e culturais das pessoas.
JAR
Era isso que pressionava uma compreensão da atividade artística orientada
por uma tradição “ocidental”, europeia e estadunidense?
BD
Não exatamente. O que pressionou essa compreensão foi uma ideia de
violência, que ainda é muito difusa pra mim, e não localizo essa presença
como uma característica da pintura brasileira. A violência é um elemento
importante no Cinema Novo, por exemplo. A linguagem e a presença do Glauber
Rocha, que inclusive trata disso no texto “Eztetyka da fome”, é uma coisa
violenta. Acho que o que pressionou foi sentir com mais força algo que já
percebia na sociabilidade e na história do Brasil: uma sociedade que
acredita na pena e na violência para resolver os mais variados conflitos
sociais e que nunca conseguiu refletir amplamente sobre fenômenos
históricos como a escravidão, o coronelismo, a ditadura militar, etc. O
caldo disso é uma cultura social escravocrata, racista, autoritária,
machista, construída na lógica punitiva, inquisidora, colonialista e
genocida em relação aos povos ameríndios e à população negra. A compreensão
veio do desconforto com a própria realidade e da necessidade de responder a
isso com a linguagem do meu trabalho de uma maneira não conformada, mas
também não panfletária. Então, é um pouco esse lugar que me trouxe
desconforto. Precisamos transitar mais para sair dele. É uma condição nossa
que precisa ser mexida.
AW
Quando você falava da sua vontade de ser um artista da metafísica, da cor
íntima, da dilatação do tempo, e que foi desconfortável descobrir que talvez
você fosse um pouco mais estranho que o modelo que estava posto naquele
momento – ou que as pinturas ganhavam mais força à medida que se moviam
dentro de um lugar mais conflituoso, menos apaziguado, continuo não sabendo
se desconforto é a palavra exata para isso. Penso, inclusive, que a
dificuldade de apreensão desse termo se refere ao lugar de onde vem uma
parte muito interessante dos trabalhos. Você foi ficando mais à vontade em
conviver com essa estranheza e com essas diferenças, não é?
BD
É isso! Acho que fui ficando mais à vontade para criar o meu trabalho, a ser
mais permeável ao que acontecia dentro do ateliê. Eu não sou um artista que
tem um projeto ou uma ideia bem definida sobre o que fazer, mas também não
sou um artista do acaso. Então tem uma coisa de trabalho, de dia-a-dia, de
pausas, de reflexão e ajustes que formam as pinturas. É a partir do que
faço, reflito, acumulo e descarto que as coisas se dão. Estou com quase
quinze anos de produção, e a percepção é a de que estou começando agora.
JAR
Por volta de 2010, uma das qualidades do seu trabalho, na minha opinião, era
a angústia que a pintura deixava entrever, algo como um “não posso ir
adiante, preciso ir adiante”. Além disso, o trabalho carregava de bom grado
um peso histórico em cada tela que apresentava. Não era sofrido, mas era
evidente que a pintura se movia por impasses. E o que eu vejo, hoje, se
parece com um “objeto ansioso”, para usar o termo do Harold Rosenberg.
Ansiedade daquilo que não se deixa satisfazer, enquanto arrisca direções
diversas para construir uma só imagem.
Essa ansiedade é também o que deixa visível o processo de realização das
pinturas recentes. A acumulação de soluções diversas, agrupadas em áreas
diferentes da tela, com o resultado meio em aberto. Há muitas marcações que
parecem o início de um preenchimento, algo que não foi concluído, muitas
formas abertas, sem contorno. Tudo isso denota ansiedade, como se o trabalho
fosse interrompido, precipitado, em meio a seus processos, ainda no fervor
da labuta. E esse aspecto aberto, aceso, ligado, confere vivacidade ao
trabalho. Nada chega pronto, completo, acabado, chega com pontas ainda por
articular. Essa talvez seja uma das principais qualidades do trabalho hoje.
Sem querer hierarquizar, “ontem era melhor”, “hoje é melhor”, mas acho que
essas diferenças estão bem marcadas.
AW
Houve também uma mudança na construção dos trabalhos que favoreceu esse tipo
de feitura. Em pinturas anteriores (2015/16/17), é possível perceber que
muitas vezes o Bruno usava pincéis maiores, gestos mais largos, às vezes
resolvendo de uma só vez uma grande área de tela. Acho que a última camada
da pintura aparecia mais rápido. Alguns trabalhos eram feitos por inteiro em
uma única sessão. Já em algumas pinturas novas (como
Fuzileiro, 2019) você parece fazer o movimento contrário. Em vários
momentos você aumentou a escala, trabalhou com a tinta mais diluída,
pinceladas menores, com mais camadas e mais sessões. Parece que nem sempre
você espera que apareça de pronto um movimento que possa resolver a pintura
de uma vez só. Algumas inclusive ficaram encostadas algum tempo no ateliê,
esperando para ser resolvidas. Isso muda um pouco o jogo, conviver dois ou
três anos com uma pintura... Essa mudança também parece ir ao encontro de
vários pontos que o Zé colocou, como se favorecessem a simultaneidade de
questões e procedimentos contraditórios num mesmo trabalho. Nas pinturas
parece existir um acúmulo de “coisas a se resolver”. Elas não são um projeto
calculado: é como se na relação do sujeito com a pintura tivesse ocorrido
uma transmutação, uma química, e a inadequação passasse a ser o método. Não
é uma questão existencial, nem afetiva, mas originalmente formal. Se as
pinturas são um agrupamento de conflitos que convivem sem uma intenção de
pacificação, penso que é sobre esse descompasso que elas se apoiam, é dele
que retiram sua força. A ideia do trabalho se esquecer um pouco das
conclusões das pinturas anteriores pode ser muito potente, apesar da
dificuldade que esse movimento traz consigo. . Há algo nas pinturas que dá a
impressão de que foi preciso esquecer o que você acertou no trabalho
anterior para poder começar o próximo. Poderíamos relacionar isso com uma
sensação de afunilamento, como se você mesmo fosse gradualmente tentando
inventar um lugar sem saída, para, a partir disso, achar um novo caminho. As
pinturas parecem lidar com uma ideia de esgotamento. Como se o gesto de
fazer uma coisa consumisse aquela coisa no momento em que ela foi feita, não
fazendo sentido repetir aquele procedimento, ou repetir aquela pintura. É
sempre preciso partir para uma outra.
BD
Acho que isso tem a ver com essa ideia de manter algo vivo, algo que ainda
estou tentando elaborar. Talvez essa ideia de esgotamento e inadequação como
método já estejam na linguagem do trabalho.
JAR
Quero retomar pontos para distinguir o que chamei de erudição e o que você,
Bruno, entendeu como habilidade técnica. Quando digo que o trabalho é culto,
erudito, considero as informações de repertório, os conhecimentos
conceituais, além dos técnicos, de feitura, que instruem a produção – e
nenhum desses traços exclui seus desejos pedestres, de que as pinturas
tivessem também uma presença na rua, como você disse. Mas no que se refere à
realização, penso que uma característica importante do trabalho está em
deixar evidentes os limites de sua destreza, de sua habilidade técnica, em
expô-los com franqueza, em operações que são também engenhosas e
inesperadas. É mais ou menos quando o imperfeito, o inconcluso, ou o
dissonante, quando os acidentes, as grosserias, coincidem com a ideia de uma
vivacidade, sobretudo porque resultam de decisões impetuosas, que conferem,
por sua vez, vigor aos resultados. Ou seja, como o Alê falou: o trabalho
está mais aberto ao imprevisto, e os limites técnicos aparecem de um modo
franco, constitutivos da obra – nos acidentes, nas manchas, nos borrões, nas
descontinuidades, nas rebarbas à vista.
BD
A valorização da habilidade técnica em geral está ligada ao sentido de
construir algo difícil, uma valorização da dificuldade como valor a ser
admirado, uma distinção muito clara entre conseguir ou não fazer algo
especial. O mesmo raciocínio serviria para falar sobre erudição. Gosto mais
da idéia de vivacidade, porque se relaciona com a ideia dos processos
abertos, de ter um frescor e que identifico como uma ética do fazer, contra
a habilidade, contra esconder como foi feito o que está na sua frente. Isso
vem também da minha formação, do meu entendimento sobre os concretos e
neoconcretos, sobre a vanguarda russa, os minimalistas norte americanos, de
artistas como Amilcar de Castro, Vladimir Tátlin e Donald Judd. Acho que
herdei algo desse pensamento, que vem de um modo esteticamente oposto no meu
trabalho, – vem através de acúmulo e não de um procedimento sintético, com
uma clareza industrial. Vem de maneira caótica, de difícil apreensão
imediata, e talvez seja esse movimento exigido da percepção que se relaciona
com a vivacidade.
AW
Sobre essa possível inabilidade técnica, acredito que ela também tenha
participação no tipo de variação que as pinturas trazem, nas diferenças
entre umas e outras. Existe uma coisa meio “desajeitada” em cada uma delas
que faz com que não obedeçam a uma estranheza muito programada. Em geral, os
trabalhos habitam dois lugares ao mesmo tempo: as mais estranhas guardam um
pouco das mais tranquilas e vice-versa.
BD
Eu não diria que elas são tranquilas e estranhas, mas sim bonitas e
estranhas. Não consigo separar essas duas coisas. Mas isso vai se mexendo, e
retorna para a questão da apreensão e vivacidade. Eu procuro um terreno não
tão estratificado e existe uma dimensão de risco aí. Acho interessante não
ser algo dado a concepções tão pré-estabelecidas, porque a percepção sobre
as pinturas muda. Tento colocá-las em um lugar de abertura, onde tudo aquilo
que seria definível convive com coisas que ainda desconheço.
JAR
O título da exposição,
Virá, também sugere algo transitivo, com olhos adiante.
BD
Acho que todas as exposições que fiz de 2014 até 2020 foram tentativas de me
deslocar da percepção que tive sobre a produção apresentada na exposição
e, de 2013. O caldo que aquilo me deu foi algo desidratado,
estéril, mudo. Acho que só agora eu saí dessa percepção. As pinturas atuais
pinturas surgem dessa trajetória, e acho que o título, Virá,
afirmado em um momento tão ruim – pandemia, avanço da extrema direita,
processos políticos desastrosos no Brasil e no mundo, retiradas de direitos
e conquistas sociais – mostra que a minha posição é de luta, de
transformação e de possibilidade. Vivo essa posição – não só dentro do meu
ateliê. Vivo isso dentro da minha atuação, no modo como me desloco na
sociedade, nas coisas que eu faço para além da pintura, com as pessoas com
quem eu construo um outro lugar em dimensões micropolíticas, mas que vai
crescendo. Isso que vivemos hoje é pendular, vai passar e acho que a
sociedade civil tem um protagonismo importante neste processo histórico. É
uma responsabilidade nossa formular um novo pacto social. Eu vejo por uma
óptica da construção e do trabalho. Tem muita coisa por fazer, dentro da
minha pintura, entre as pessoas, nas relações no meio de arte – e isso me
anima.
Este texto foi desenvolvido a partir de duas conversas, realizadas no mês de
setembro de 2020, no ateliê do artista Bruno Dunley e na exposição
Virá, na Galeria Nara Roesler, São Paulo.